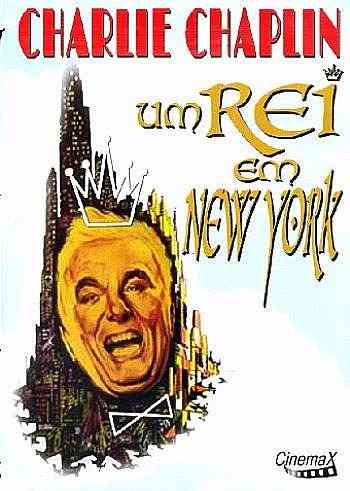
Um Rei em Nova York
Crítica
Leitores
Sinopse
Crítica
Para além de seu valor artístico, Um Rei em Nova York pode ser considerado uma obra emblemática também por razões que concernem à vida de seu criador e ao momento histórico no qual se insere. Penúltimo filme de Charles Chaplin como diretor – último como protagonista – foi também o primeiro realizado em seu exílio na Inglaterra, terra natal para onde voltara após décadas vivendo e trabalhando nos EUA. Foi durante uma viagem ao Reino Unido, para promover a obra-prima Luzes da Ribalta (1952), que Chaplin foi informado de que seu visto de entrada na América havia sido cancelado devido à acusação de defender o comunismo. Vivia-se a Guerra Fria e o auge do macarthismo, em que o sectarismo anticomunista dominava a sociedade americana, levando a uma verdadeira caça às bruxas que afetou Hollywood drasticamente.

Chaplin foi provavelmente a mais notória personalidade cinematográfica vítima dessa perseguição, e resolveu tratar o tema de modo satírico com este filme que, mesmo sendo finalizado após a queda do senador McCarthy, só seria lançado nos EUA nos anos 70. A trama acompanha o governante da fictícia Estróvia, o Rei Shahdov (Chaplin), que busca asilo em Nova York após fugir de uma revolução política popular em seu país. Tendo toda a fortuna roubada por seu primeiro-ministro, o monarca passa os dias num luxuoso hotel ao lado do Embaixador Jaume (Oliver Johnston) esperando vender seus planos sobre energia nuclear para a Comissão Atômica norte-americana. Durante o tempo de desenvolvimento do projeto, Chaplin trabalhou sobre diversas ideias de abordagem, algo que transparece levemente no resultado final, especialmente no ritmo menos apurado do que o habitual.
A mescla de diferentes tipos de humor também soa como um reflexo dessa gênese mutável. O longa apresenta diversos exemplos de comédia tipicamente chapliniana, presente tanto nas gags mais físicas – como a antológica sequência em que o Rei prende seu dedo na mangueira dentro do elevador, ou quando estoura seu lifting facial por gargalhar de um número de dois comediantes de estilo pastelão, à la O Gordo e o Magro – quanto nos momentos de humor mais refinado, como quando tenta explicar o prato que deseja pedir ao garçom através de mímicas, já que o barulho da banda ao lado da mesa é ensurdecedor. Em meio a essas piadas, Chaplin insere seus comentários críticos e irônicos sobre as mudanças culturais da época nos Estados Unidos.

Tais observações começam pelos rumos da própria produção cinematográfica, vide os trailers insólitos assistidos pelo Rei em sua ida ao cinema. O crescimento da popularidade da televisão é outro elemento bastante presente na trama – até mesmo no banheiro da suíte do monarca existe um aparelho de TV – assim como os aspectos financeiros da publicidade que a domina. Esse último tópico é representado pela personagem Ann Kay (Dawn Addams), que protagoniza algumas das cenas mais hilárias do longa quando, após seduzir Shahdov para que compareça a um jantar de gala, sem que ele saiba que está sendo filmado por câmeras escondidas, insere textos de merchandising de produtos, como um desodorante feminino, no meio de seus diálogos. É durante o jantar, também, que Chaplin tem seu ápice dramático ao recitar Hamlet, algo que transforma Shahdov em celebridade instantânea.
O cerne de Um Rei em Nova York, porém, é mesmo a crítica à opressão, e ela surge com a introdução do garoto Rupert (vivido com desenvoltura pelo filho do cineasta, Michael Chaplin). Filho de professores comunistas perseguidos pelo governo, o jovem, que já lê Marx e discursa calorosamente sobre liberdade e política, como no excepcional primeiro encontro com o Rei na escola, é responsável por despertar certo sentimento paternal no protagonista, encarnado por Chaplin com seu talento e carisma habituais. O ator/cineasta compõe um personagem extremamente simpático, mas que não esconde suas incongruências e fraquezas, como a covardia demonstrada ao abandonar seu povo, que na cena inicial invade o palácio vazio, ou quando, devido a interesses monetários, contraria sua aversão inicial à ideia de se tornar um garoto propaganda – o que rende a ótima sequência do comercial de uísque, inspiração clara de Sofia Coppola para a memorável cena de Bill Murray em Encontros e Desencontros (2003).

A narrativa não deixa de apresentar alguns pontos frágeis, como o romance entre o Rei e Ann ou o relacionamento com a Rainha (Maxine Audley), por quem ainda demonstra ter grande afeto, mesmo assumindo o declínio do casamento e aceitando conceder-lhe o divórcio – numa dinâmica que talvez simbolize a própria relação abalada da separação entre Chaplin e a América. Isso, porém, não chega a enfraquecer o conjunto, que ainda oferece outros momentos inspirados, como o da operação plástica ou a continuidade da já citada cena da mangueira, com Shahdov chegando ao tribunal para depor e terminando por molhar todos os membros do Comitê de Atividades Antiamericanas. Cena essa que concretiza – pela via cômica, mas contundente – o ataque de Chaplin àqueles que buscavam repreender a liberdade de expressão, e que o leva a retratar também o lado das vítimas dessa opressão, como Rupert. É no belíssimo plano do garoto indo às lágrimas, e procurando conforto no abraço do Rei, que se revela a grande força do discurso do filme de Chaplin. Como definiu Roberto Rossellini: “um filme de um homem livre”.
Últimos artigos deLeonardo Ribeiro (Ver Tudo)
- Pessoas Humanas - 14 de setembro de 2023
- Resgate de Alto Risco - 27 de janeiro de 2022
- Nheengatu: O Filme - 2 de dezembro de 2021


Deixe um comentário